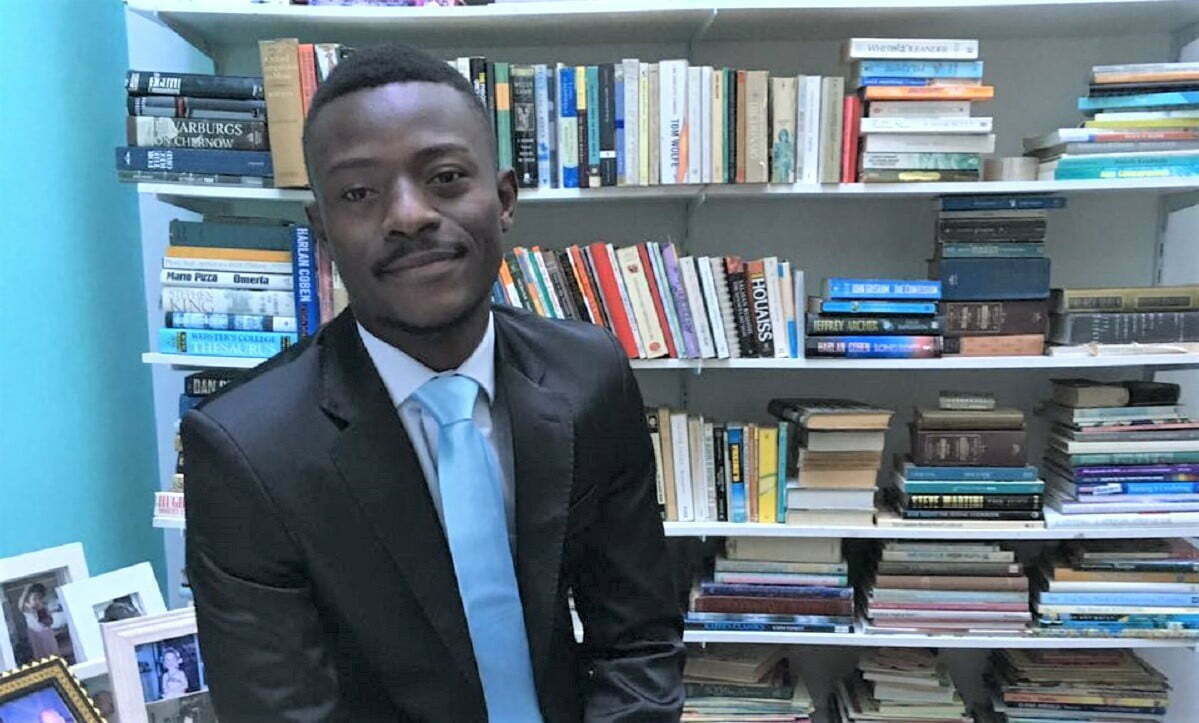
por Steve Kikudi
Sou natural de Kinshasa, República Democrática do Congo, e passei uma grande parte da minha infância na África do Sul, em Johannesburgo, com minha mãe que é professora de Relações Internacionais e ativista dos direitos das mulheres. Lá, comecei a estudar Ciência Política na escola belga Lycée Prince de Liege. Mas, depois de ter me decepcionado com a corrupção dos políticos e dos discursos de ódio tribal, decidi voltar à minha terra natal para estudar Literatura Francesa e Filosofia Negro-Africana no Institut Français.
A história que vou compartilhar com vocês começou em 2013, quando políticos de oposição, incluindo meu pai (que defendia a democracia e a justiça social desde 1992 e foi eleito deputado federal, em 2006), protestavam contra a intenção — que hoje se tornou um fato — do presidente da República Denis Sassou-Nguesso revisar uma das cláusulas pétreas da constituição do Congo sobre o mandato de cinco anos renováveis apenas uma vez. Era seu último mandato e ele queria modificar a cláusula para permanecer no poder. Depois dos protestos, meu pai foi preso e acusado de “alta traição à República” por participar de uma manifestação contra a revisão constitucional pretendida pelo governo congolês.
Pouco tempo após ser detido, ele fugiu e não voltou a morar com nossa família. O juiz que conduzia o caso considerou que, por ser o filho mais velho dele, eu poderia também ser responsável por sua “traição”, o que teria como consequência também a minha prisão, já que meu pai havia fugido. Diante dessa situação, minha mãe passou a buscar um país no qual eu pudesse obter refúgio o mais rápido possível. Após diversas tentativas, o Brasil aceitou o pedido de asilo político e eu me mudei para cá — sozinho.
Cheguei a São Paulo como refugiado. Tinha 16 anos e não sabia uma palavra em português. Foi só o começo
Mesmo entrando em contato com organizações que ajudam refugiados, como Cáritas e Conare, minha condição como menor de 18 anos fez com que não pudesse morar sozinho, passando a viver em um abrigo. Foi uma mudança brutal na minha vida. Com o tipo de comportamento que tinham os adolescentes que moravam lá, cheguei ao ponto de pensar que abrigo significa prisão.
Pouco tempo depois, chegou ao abrigo uma menina vinda de Angola. A gerente nos apresentou e disse que ela iria ficar conosco. Eu pensava que ela tinha feito algo de errado também e, um dia, perguntei por que veio para o Brasil. A garota contou que morava com sua tia, mas como ela tinha viajado, foi encaminhada para esse lar temporário. Logo depois, a questionei se o abrigo era uma prisão e ela me disse que não, mas eu não quis acreditar.
Um dia, essa menina angolana fugiu do abrigo. Sua fuga confirmou minha tese: se aquele local era um bom lugar, por que, afinal, os meninos fugiam? A partir daí, decidi me afastar das pessoas, esperando o dia que poderia sair dali. Um dia, porém, uma educadora me convidou para a festa de aniversário de um amigo dela. Eu fui e, na volta, os outros internos ficaram com muita inveja, questionando por que ela também não os tinha convidado. Eles passaram a me ameaçar de morte e me chamar de todas as palavras ruins desse mundo: macaco africano, estrangeiro pobre, filho de terrorista etc.
A coisa que eu mais tinha medo era morrer. Para eles, matar alguém parecia algo fácil
Naquela mesma noite, os educadores me retiraram do quarto onde eu dormia e passei a madrugada no escritório do local. No dia seguinte, finalmente fui transferido para outro abrigo… Chegando lá, vi uma mudança, pois os adolescentes estudavam e faziam outras atividades que os ajudavam a desenvolver sua capacidade intelectual, como desenhar e escrever. A gente vivia como uma família.
E foi assim, com o estímulo desse ambiente, que decidi voltar a estudar. Queria continuar na literatura francesa e filosofia negro-africana, mas o programa brasileiro não previa esses temas. Mesmo assim, voltei para o terceiro ano do Ensino Médio em uma escola pública e completei esta etapa. Mas ainda estava insatisfeito com minha formação escolar e, antes de tentar universidade, decidi fazer cursos profissionalizantes de música, gestão de empresas e economia política.
Neste último curso, fiquei entre os primeiros chamados a apresentar o trabalho de conclusão na Faculdade da Columbia, em Nova York. No mesmo ano, fui convidado para palestrar na PUC-SP, na semana das Relações Internacionais, e na Câmara dos Deputados, falando sobre o refúgio e imigração. No entanto, não queria ficar só nesse nível, queria defender algo bem maior, a justiça social e, por isso, comecei a fazer trabalho voluntário nas organizações Jovens Sem Fronteiras e Poder Jovem.
Desde a minha infância, sonhei e sonho um mundo sem diferenças de cor, religião, cultura e idioma
Pensei em todos os tipos de injustiça que minha mãe passou e continua a passar por defender a paridade entre homens e mulheres, e em meu pai, perseguido porque defendeu eleições, algo fundamental em um Estado de Direito. Por tudo isso, escolhi fazer a graduação em Direito na Fundação Getulio Vargas. Uma universidade que não é fácil de entrar para brasileiros, imagina para mim, estrangeiro!
Me lembro do dia que passei na Fundação Getulio Vargas e consegui uma bolsa. Liguei para minha mãe, mas não a encontrei em casa. Depois, minha tia me ligou de volta, contando que minha mãe não pôde atender pois ela está sob prisão domiciliar, acusada sem provas por “ofensa ao presidente da República”. Isso me fez pensar: como alguém pode realmente se sentir livre privando os outros de sua liberdade?
Sem poder fazer nada, eu ia me adaptando à rotina por aqui. Nós, refugiados, não temos a opção de escolher o país para onde ir: aceitamos sempre a primeira oportunidade que se abre, por necessidade.
Foi assim que eu descobri o Brasil de verdade, não aquele que meu professor de História me ensinava, mas um país onde, de acordo com o IPEA, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras, em que cerca de 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes, sem esquecer a condição da mulher no mercado de trabalho.
Apesar de tudo, sou otimista em relação ao Brasil. Apesar de todos os acontecimentos, confesso que aprendi muito com brasileiros e continuo aprendendo. Se eu puder definir o brasileiro, diria que é um povo que não tem cor e que gosta de fazer piadas mesmo em tempos difíceis. Quando ele te ama, te dá até um apelido. No meu caso, “Stevão” e “Stevezera”.
Quanto às minhas origens, a África continua a ser o berço da humanidade. Os africanos têm uma maturidade política extraordinária, mas todos nós sabemos que a guerra no continente é na verdade bussiness de empresas multinacionais, as mesmas que depois surgem como “Super Homem“ para lutar contra a fome e pobreza.
A melhor maneira de ajudar os africanos, de fato, é parar de apoiar seus ditadores
Enquanto sigo por aqui, meu primeiro objetivo é me formar na FGV e tentar ingressar em organizações internacionais de direitos humanos, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Minha ideia é tentar mudar alguns aspectos da política de direitos humanos no mundo. Por exemplo, na África, em caso de grave violação de direitos humanos, eles sancionam os países — e é exatamente por isso que o desenvolvimento do continente é tão lento. Eu sugeriria que eles punissem diretamente os indivíduos e não a população. Outra opção profissional para mim, também, é dar aulas. Me apaixonei pelo ensino dos idiomas francês e inglês e também pretendo me tornar professor de Direito.
Steve Kikudi chegou ao Brasil, em 2013, como refugiado político do Congo. Hoje cursa Direito na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.
O jornalista André Naddeo sentia-se estagnado, até que deixou a carreira e foi viver um tempo num campo de refugiados na Grécia. Ele decidiu então se desfazer de suas posses para ser mais livre e acolher imigrantes por meio de uma ONG.
Angústias e dilemas da paternidade. Autoconhecimento por meio de uma transição capilar. Leia a nossa retrospectiva Lifehackers, com os relatos potentes de pessoas que tiveram a coragem de trazer disrupção para suas vidas.
Paloma Santos recebeu um diagnóstico para sua síndrome apenas quando já estava na cadeira de rodas. Hoje, a ilustradora e ativista leva a luta das pessoas com deficiência para a sua arte (e diversidade ao mundo das princesas).
