
“Abri a porta, sentei-me no banco e me preparava para afivelar o cinto de segurança quando alguém entrou pelo lado do carona. Foi tudo muito rápido. Antes que pudesse gritar, uma mão grossa e pesada tapou minha boca. A outra segurava um revólver.”
Adriana Negreiros era uma jovem jornalista, recém mudada para a cidade de São Paulo, quando passou por uma situação que transformaria completamente sua vida, como confirma no título do livro A vida nunca mais será a mesma, lançado em 2021 pela Editora Objetiva. Nele, Adriana conta com riqueza de detalhes a noite em que sofreu um estupro, em maio de 2003.
Mais do que narrar uma história pessoal, a jornalista vai a fundo no tema para trazer dados, informações e relatos de outras mulheres que também passaram por situações de violência sexual.
“Comecei a pensar que eu podia contar não só a minha história, mas fazer uma ampla reportagem sobre a cultura do estupro no Brasil”
Adriana também é autora de Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço (2018) e trabalha na biografia de Dercy Gonçalves, que deve ser lançada em breve. Atualmente, vive com a família na cidade do Porto, em Portugal, e investiga como o feminismo pode ajudar a compreender a história no doutorado em Estudos Feministas na Universidade de Coimbra.
“Eu acho que a gente tem cada vez mais que contar histórias com uma perspectiva feminista”.
Confira a seguir o papo de Adriana Negreiros com o Draft:
Você tem uma vida bem sucedida, com uma carreira estável e uma família consolidada. É possível olhar para a sua história sem imaginar que passou por uma situação de tamanha violência, mas logo no título do livro você afirma que a vida nunca mais será a mesma. Como sua vida mudou após esse crime?
Acho que eu seria uma pessoa bastante diferente da qual eu me transformei. Eu tinha um estilo de vida e uma personalidade que foram totalmente modificadas. Eu era uma jovem jornalista impetuosa, com um espírito aventureiro aflorado, e me transformei em uma pessoa medrosa.
Esse medo que se instalou em mim de uma forma muito violenta mudou minha vida e minha trajetória. Ele passou a ser meu principal companheiro. Todas as minhas escolhas, desde as mais comezinhas até as mais complexas, foram guiadas pelo medo
Algo muito significativo é que hoje eu moro na cidade do Porto, em Portugal. Vim pra cá quando as minhas filhas, que têm 18 e 13 anos, entraram na adolescência porque eu comecei a achar que a gente tinha que sair de São Paulo, se não eu ia virar uma mãe completamente paranoica. Aqui, eu sinto uma sensação de segurança que eu não consigo sentir no Brasil por causa da minha experiência.
E eu não quero ficar com um papo meio reacionário de “ah, a falta de segurança me afastou do Brasil”, não é isso. É porque quando as minhas filhas entraram na adolescência eu comecei a ficar realmente neurótica, de que elas pudessem passar pelo que eu passei.
Então, a vida nunca mais vai ser a mesma nesse sentido, de que é uma experiência de ruptura na vida de uma mulher – e na vida das futuras gerações.
O que motivou a mudança da sua família foi esse sentimento?
Foram vários motivos. Quando a oportunidade de vir para Portugal surgiu, eu embarquei com muito entusiasmo por saber que eu ia me sentir segura aqui.
Eu ficava sempre procurando um refúgio onde eu pudesse viver uma vida menos amedrontada. E morar em Portugal foi uma forma de encontrar um destino que me deixasse um pouco mais confortável.
A eleição de Bolsonaro [em 2018] também influenciou, além de outras questões profissionais. Então, o sentimento de segurança não foi o único fator, mas foi um dos mais importantes.
Quais as semelhanças e diferenças entre Brasil e Portugal com relação à cultura da violência e do estupro?
Assim como o Brasil, Portugal é um país com uma forte cultura machista. Aqui existe uma questão preocupante de violência doméstica contra a mulher. Há inúmeros casos de mulheres que sofrem violência dos seus parceiros e é algo que está no centro das discussões, como uma questão a ser combatida.
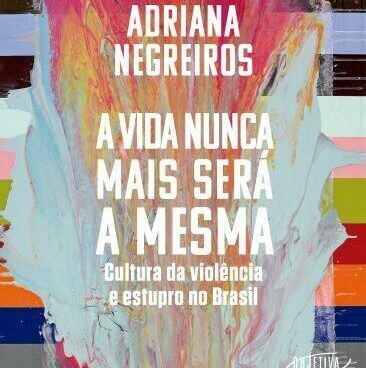
Capa do livro de Adriana, publicado pela Objetiva.
A diferença entre os dois países diz respeito à sensação de segurança nos espaços públicos. Aqui eu saio a pé pelas ruas à noite sem ficar tão apavorada. Ainda existe um medo, em todo lugar as mulheres têm medo de estar em ambientes mais vazios, mas acho que aqui é consideravelmente menor do que no Brasil.
Certa vez, conversei com uma pesquisadora que fez um estudo em que perguntava para mulheres de Brasília e de Lisboa qual era o principal medo que elas sentiam ao sair de casa. As mulheres de Lisboa diziam ter medo de serem atropeladas, assaltadas… a quinta coisa era serem violentadas na rua. No caso das mulheres de Brasília esse era o primeiro ponto.
E entre as regiões do Brasil? Como uma pessoa que nasceu em São Paulo, mas cresceu em Fortaleza, você observa diferenças com relação à violência de gênero entre o Sudeste e o Nordeste?
O machismo é um mal que nos assola de uma forma bastante democrática, digamos assim. Há uma falsa ideia de que no Nordeste, especialmente no sertão, as relações de machismo são mais intensas do que nos grandes centros urbanos. Não há nada que comprove isso.
O desrespeito à mulher ocorre em várias instâncias, em várias regiões, inclusive nos diferentes estratos econômicos. O que há é uma tendência de parte do Sudeste de olhar para o Nordeste como uma região atrasada, o que a meu ver é um equívoco.
Muitos dos avanços do feminismo vieram do Nordeste. A primeira mulher a votar na história do Brasil foi na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte
Como eu cresci em Fortaleza e a violência da qual fui vítima aconteceu em São Paulo, eu me sinto muito mais segura em Fortaleza. Passei a ter um sentimento de muito medo com relação a uma grande cidade como São Paulo, mas é uma questão pessoal.
O livro foi escrito quase duas décadas depois do que você viveu. O que te motivou a escrever? E como foi revisitar essas memórias em plena pandemia?
Desde que o crime aconteceu eu achava que tinha que fazer alguma coisa com essa experiência. Era algo que me incomodava, como se eu tivesse uma bola na garganta e precisasse me livrar dela.
Eu tinha uma série de medos com relação a isso, porque achava que podia ficar muito marcada se eu contasse essa história. Tanto que meu primeiro livro não foi sobre isso, foi sobre a Maria Bonita. Logo depois, comecei a trabalhar em uma biografia da Dercy Gonçalves – só que veio a pandemia e tive uma série de dificuldades para ir ao Brasil entrevistar as pessoas, pegar bibliografia.
Então um dia comecei a escrever essa história, só pra mim. Depois comecei a pensar que talvez fosse o momento de transformar isso em um livro, e que eu podia contar não só a minha história, mas fazer uma ampla reportagem sobre a cultura do estupro no Brasil
Desenhei como seria o livro e conversei com a minha editora, muito constrangida, “olha, eu sei que tenho que entregar o livro da Dercy, mas estou com uma série de dificuldades por causa da pandemia e queria colocar esse outro na frente..”. Aí a gente inverteu a ordem.
Eu passei o período da pandemia, exatamente nove meses, fazendo o livro. Foi um período intenso, o tema era muito difícil, e tive que fazer entrevistas com pessoas que tinham vivido experiências terríveis.
Foi um mergulho em algo que eu tentava não ter mais contato. Mas passados 18 anos, eu já conseguia olhar pra essa experiência de uma forma um pouco mais distante, sem sofrer tanto quanto na época.
Além do seu relato pessoal, o livro traz diversos casos de meninas e mulheres. É a partir desse coletivo que você afirma que há uma cultura da violência e estupro no Brasil. Por que você utiliza a palavra cultura?
Esse é um termo que já se utiliza entre as feministas há algum tempo. Ele remonta aos anos 1970, quando as norte-americanas começaram a se debruçar um pouco mais sobre a questão da violência sexual.
Esse era um tema ainda muito obscuro, mesmo entre as teóricas, porque a segunda onda do feminismo tratava mais de outras questões como a igualdade salarial e o acesso ao mercado de trabalho. A questão da violência sexual contra as mulheres foi considerado algo menor, inclusive no Brasil, que enfrentava uma ditadura militar.
Então, durante muito tempo esse tema foi um pouco esquecido, mas ali nos anos 1970 algumas feministas norte-americanas resolveram se debruçar sobre isso e começaram a utilizar o termo “cultura do estupro” para definir essa naturalização da violência sexual contra a mulher
Embora exista uma certa resistência a esse termo entre alguns antropólogos, ele se consolidou como uma expressão que de fato explica como o estupro é naturalizado e normatizado nas nossas sociedades.
Entre os casos que você ouviu tem algum que te chocou mais?
O que mais me chocou, talvez porque eu conheço a pessoa, é o de uma mulher que passou a sofrer abuso do próprio pai quando era adolescente. Isso pra mim é o cúmulo do terror, é uma coisa que não entra na minha cabeça de jeito nenhum.
Depois que conversei com ela, fiquei mal por um bom tempo, porque era uma pessoa que eu conhecia e eu nunca tinha me dado conta de que ela tinha passado por uma experiência tão dolorosa.
Claro que todos os casos que estão no livro são muito significativos, mas esse em especial me deixou realmente chocada.
Em diversos trechos do livro você relaciona a cultura do estupro ao exercício do poder. No Brasil, ainda são poucas as leis que garantem equidade às mulheres. Que propostas deveriam ser adotadas para a construção de um país menos desigual?
É muito importante que a gente faça sempre essa diferenciação: muita gente pensa que a violência sexual diz respeito ao desejo, como se os violentadores fossem homens cheios de tesão que não conseguem se controlar diante de uma mulher e acabam por violentá-las.
Não se trata disso. Trata-se de um exercício de subjugar o outro, de considerar o outro como objeto. Por isso é preciso conscientizar as novas gerações sobre a importância da igualdade de gênero. Por isso o feminismo é fundamental
A gente tem de fato que garantir que as mulheres ocupem cada vez mais espaço de poder e, em relação a isso, acho que as políticas de cotas são muito importantes. Quanto mais mulheres na política, mais as nossas questões serão colocadas no ambiente político.
E é claro que não pode ser qualquer mulher. Tem que ser mulheres comprometidas com a igualdade, com a nossa autonomia, mulheres que têm ciência de que as questões que dizem respeito ao nosso corpo são nossas questões e não podem ser decididas por homens.
Você conhece outras iniciativas de sucesso no combate a esse tipo de violência, dentro ou fora dos espaços de poder?
No Brasil nós temos muitas leis, muitas iniciativas elogiáveis que são fundamentais para esse combate, como a Lei Maria da Penha, que é modelo para o mundo inteiro no combate à violência contra a mulher.
O que muitas vezes falta é esclarecimento sobre a existência dessas leis e informação sobre os canais que as mulheres possuem para denunciar e buscar apoio. Na sociedade civil também tem uma série de outras iniciativas no sentido de dar apoio para as mulheres.
Agora, iniciativas que sejam mais comunitárias eu não saberia te dizer. Algo que tem ajudado muito as mulheres hoje é o apoio pelas redes sociais, né? Muitas mulheres têm sofrido situações de abuso, relações tóxicas, relações abusivas no casamento ou com familiares – e têm conseguido escapar dessas situações com o apoio das redes.
No seu livro você afirma que 2013 foi um ano de virada para que as questões sobre violência contra a mulher ganhassem mais repercussão em todo país. Qual a sua avaliação sobre como o tema vem sendo abordado desde então?
O fortalecimento do movimento feminista fez com que essa questão passasse a ocupar o centro das nossas discussões.
Também tivemos algumas situações que foram fundamentais para colocar isso na roda, como a ascensão da extrema direita, que é notória por naturalizar a violência contra a mulher… A gente pode atribuir a essa ideologia política um machismo muito forte e uma misoginia que se traveste inclusive de um certo orgulho
Prova disso é que a sua principal liderança no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro, utilizou a violência contra a mulher como um dos elementos para convencer os eleitores a votarem nele.
A extrema direita não só dissemina um discurso a favor da violência contra a mulher como faz dele uma estratégia para sua ascensão. Não à toa, de 2013 pra cá a extrema direita começou a se fortalecer.
E como se dá essa questão no ambiente privado? Segundo o Mapa da Violência Contra a Mulher, cerca de 65% dos estupros ocorrem dentro de casa, ou seja, o estuprador é alguém da família. Como ajudar meninas e mulheres a não sofrerem esse tipo de violência?
Essa é uma questão muito interessante porque existe um imaginário do estuprador como o tarado que está em um beco escuro e vai atacar uma mulher na madrugada.
Na verdade, o estuprador está dentro de casa. Ele é uma figura funcional, que sai pra trabalhar, vai pra igreja, defende valores que são tidos como elevados. A princípio é alguém absolutamente insuspeito. E esse é o principal gargalo da situação: o fato de ser uma violência que ocorre na intimidade.
Temos todo esse discurso liberal de que a intimidade é algo que diz respeito apenas às pessoas que estão envolvidas, que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, e que “entre quatro paredes pode tudo”. Com isso, a gente acaba por negligenciar uma série de violências
Esse discurso da autonomia do espaço privado muitas vezes é uma armadilha para mulheres e crianças. Por isso é preciso que as escolas estejam muito atentas a essa questão, porque às vezes é o único espaço que uma criança tem para falar, para compartilhar alguma inquietação de algo que está acontecendo na sua intimidade.
A dificuldade de entender o individual enquanto uma questão de política coletiva é um dos maiores desafios para enfrentar a cultura da violência e do estupro? Ou existem outros desafios maiores?
Eu acho que temos que recuperar a nossa humanidade. Estamos em um momento de muita desumanidade, de naturalização e banalização da morte e da violência.
A gente passou por uma pandemia que matou quase 700 mil pessoas e tratamos disso como se fosse um número…, como se essas vidas fossem absolutamente dispensáveis. Vemos a quantidade de mulheres violentadas todos os dias e tratamos isso como se fosse parte da vida. É fundamental que a gente recupere os nossos valores humanitários.
Como mãe de duas filhas, como você aborda temas de machismo e violência de gênero em casa?
Sempre falei muito sobre isso. Até o momento em que escrevi o livro, elas não sabiam por que eu era tão obcecada por esse tema. Foi ali que eu contei pra elas.
Às vezes eu dizia: “se vocês quiserem sair com uma roupa curta, vocês podem e devem sair, se isso é um desejo de vocês, nunca deixem de fazer – mas tomem cuidado, porque para as mulheres é preciso ter cuidado”.
Eu sinto que preciso alertá-las a olhar pra trás, a escolher sentar do lado de uma mulher no metrô sempre que possível… Tenho que dar esse tipo de conselho. É terrível, mas é o que consigo fazer para alertar que nós, mulheres, corremos sempre esse risco – e não podemos baixar a guarda
No mundo ideal, eu não precisaria dizer isso pra elas nem pra ninguém, Mas, infelizmente, não é esse o mundo em que a gente vive.
Antes deste livro você escreveu Maria Bonita: sexo, violência e mulheres no cangaço, que foge da visão romântica de que, naquele grupo, mulheres e homens tinham o mesmo poder. Você já queria escrever o livro com essa perspectiva? Ou foi algo que surgiu a partir das pesquisas?
Eu achava que a Maria Bonita era uma guerreira feminista. Eu tinha essa ilusão e conversei com a minha editora para fazer um livro nesse sentido. Mas quando comecei a fazer a pesquisa, vi que ela era uma mulher subjugada, assim como todas as cangaceiras.
O cangaço foi uma experiência de profunda dominação dos homens sobre as mulheres. Essas meninas não acompanhavam os cangaceiros porque tomaram essa decisão. O único caso assim foi Maria Bonita, mas ela é uma exceção.
Aquelas meninas estavam em suas casas, brincando de boneca, e foram roubadas, levadas pro sertão, submetidas a múltiplas violências, sobretudo sexuais, e obrigadas a ter uma existência criminosa. Eram crianças que haviam sido raptadas e eram subjugadas por ambos os lados: tanto pelo estado, que as enxergava como bandidas, quanto pelos cangaceiros
Havia uma visão romântica, da qual eu compartilhava, de que a Maria Bonita era uma espécie de Joana D’Arc da caatinga que liderava um grupo de mulheres e que combatia as violências vindas do estado… Mas, no fundo, eram mulheres que prestavam obediência aos cangaceiros.
Elas geralmente ficavam nos coitos, que eram os lugares onde os cangaceiros se escondiam, e desempenhavam tarefas domésticas, como a costura e o preparo dos alimentos. Eram muito mais próximas de uma dona de casa do que propriamente de uma guerreira.
Quando me dei conta disso, fiquei apavorada. Eu pensava: “não tem como fazer esse livro”. Aí, depois de uma crise, percebi que o livro, na verdade, era exatamente sobre isso. Faltava um olhar feminista sobre o cangaço
Esse é um débito que a história tem com as mulheres: ela é sempre contada do ponto de vista dos homens. Quando você vai falar sobre o cangaço, ninguém se importa com as mulheres, ninguém repara muito no que elas faziam. O pouco que havia sobre elas era menos retratado pela história e mais pela literatura, pelo cinema, pela indústria do entretenimento. A bibliografia dava pistas de que essas mulheres viviam subjugadas.
E aí, voltando à cultura de estupro, isso era muito naturalizado. Os casos de violência sexual dos cangaceiros eram contados na chave do humor.
Tem um caso clássico de um homem de 80 anos casado com uma mulher muito jovem. Quando Lampião soube, achou aquilo uma sem-vergonhice e resolveu mostrar para o velho que ele estava errado. Como? Estuprando a mocinha. Não só ele como todos os outros cabras. Ou seja, era uma narrativa de um estupro coletivo contada quase como uma travessura de Lampião.
Esse é o tema do meu doutorado: como o feminismo pode nos ajudar a compreender a história. Porque se eu olhar com uma perspectiva feminista, muda tudo
Temos aí [pela frente] um longo percurso, tem muito o que ser feito ainda pra contar a história do Brasil com um olhar feminista – e um olhar que seja científico, não apenas ativista.
O seu livro mais recente teve uma boa repercussão, ganhando o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, e você tem sido convidada para falar sobre o tema. Você tem novos projetos em vista que ajudam a repercutir esse assunto?
O que tenho em mente é que eu sempre vou querer escrever livros sobre mulheres. É onde tem histórias novas, e digo “novas” porque durante muito tempo se ignorou a história das mulheres.
O livro da Maria Bonita tinha muito sobre violência sexual, porque ela estava no centro do cangaço. No segundo livro isso também aparece, por razões óbvias. E na biografia da Dercy, que pretendo concluir em breve, também há muitos relatos de violência sexual.
A verdade é que não tem como fugir dessa questão quando se escreve sobre mulheres, infelizmente. Essa violência é algo que nos acompanha
Eu adoraria escrever um livro sobre uma mulher que não tivesse tido nenhum contato com a violência de gênero…, mas acho absolutamente impossível.
Você realizou outro projeto, o Fale com Estranhos, que abria a possibilidade de ouvir relatos dos mais diversos tipos, inclusive de pessoas vítimas de violência. O projeto durou até quando? O que descobriu de mais relevante?
O Fale com Estranhos foi um projeto muito curto. Tive essa ideia com um amigo, o Daniel Motta, em 2013. A gente tinha um canal no YouTube e queria transformar em algo maior. Eu adorava, era bem divertido, mas durou pouquíssimo tempo, por falta de dinheiro mesmo.
Em termos de projetos, sigo trabalhando como jornalista freelancer e estou escrevendo dois livros: o da Dercy e outro que não posso dar detalhes por questões contratuais – mas também é uma biografia de uma mulher.
Um dia, Daniel Gaggini viu que não sentia mais prazer em atuar. Ele se reinventou e hoje produz de séries para o streaming a um documentário sobre Luiz Melodia, além de um festival de cinema 60+ e uma mostra de teatro em Heliópolis.
Depois de 11 anos de uso contínuo, Silvana Guerreiro resolveu que não iria mais tomar anticoncepcional. Ela conta o que aprendeu nesse processo e como se descobriu uma empreendedora de impacto, à frente de um projeto de educação menstrual.
